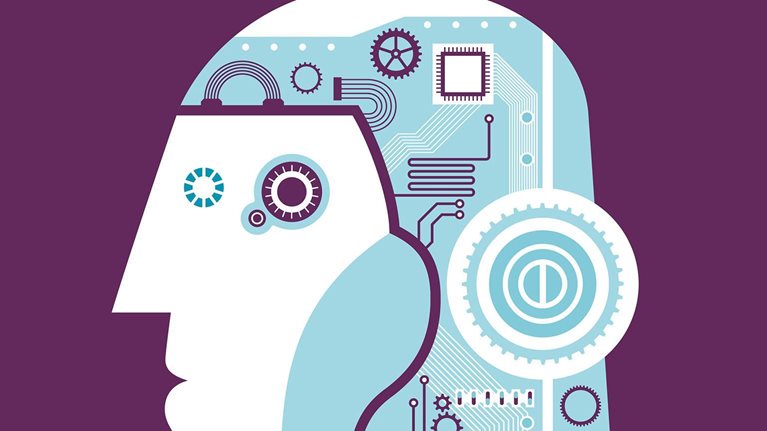Um ano atrás, no aeroporto de Oslo, fiz o check-in para um voo da SAS. Um quiosque da empresa aérea emitiu o cartão de embarque, outro imprimiu a etiqueta de bagagem. Em seguida, uma tela de computador mostrou-me como afixá-la e outra onde eu deveria colocar a bagagem na esteira. Não me deparei com um único ser humano. O incidente não foi importante, mas deixou-me com a estranha sensação de estar à margem de todo cuidado ou atenção humana, de que algo em nosso mundo havia mudado.
Stay current on your favorite topics
Essa mudança, é claro, já vem ocorrendo há muito tempo. Foi impulsionada por uma sucessão de tecnologias – a internet, a nuvem, big data, robótica, machine learning e, agora, inteligência artificial – que, em conjunto, são tão poderosas que os economistas concordam que estamos no meio de uma revolução econômica digital. Todavia, há menos concordância sobre como exatamente as novas tecnologias estão mudando a economia e se essas mudanças são realmente profundas. Robert Gordon, da Northwestern University, nos diz que a revolução do computador “atingiu o ápice na época das ponto.com na década de 1990”. O progresso futuro da tecnologia, diz ele, será mais lento.
Mas de que modo exatamente as novas tecnologias estão mudando a economia? A revolução que elas estão provocando tem realmente desacelerado? Ou mantém-se persistente e profunda? E, em caso afirmativo, como isso mudará o caráter da economia?
Defendi alguns anos atrás que as tecnologias digitais criaram uma segunda economia – uma economia virtual e autônoma – e isso certamente é verdade. Hoje, porém, acredito que a principal característica dessa economia autônoma não é simplesmente que ela esteja aprofundando a economia física. É o fato de que ela agora fornece uma inteligência externa constante para os negócios – uma inteligência que não fica alojada internamente em trabalhadores humanos, mas externamente nos algoritmos e máquinas da economia virtual. Os processos corporativos, de engenharia e financeiros podem agora recorrer a gigantescas “bibliotecas” de funções inteligentes que enriquecem enormemente suas atividades – e pouco a pouco vão tornando as atividades humanas obsoletas.
Argumentarei que isso está fazendo com que a economia ingresse em uma era nova e diferente. A economia atingiu um ponto em que, em princípio, produz o suficiente para todos; entretanto, os meios de acesso a seus serviços, produtos e empregos estão cada vez mais restritos. Portanto, esse novo período em que estamos ingressando refere-se menos à produção (quanto é produzido) do que à distribuição (como as pessoas obtêm sua parte do que é produzido). No futuro, tudo – desde políticas comerciais e projetos governamentais à regulamentação dos negócios – será avaliado em termos da distribuição. A política mudará, as crenças do livre mercado mudarão, as estruturas sociais mudarão.
Ainda estamos nos primórdios dessa transformação, mas ela será profunda e continuará se desdobrando indefinidamente futuro adentro.
A terceira metamorfose
Como chegamos onde estamos agora? A cada 20 anos aproximadamente a revolução digital se metamorfoseia e nos traz algo qualitativamente diferente. Cada metamorfose decorre de um conjunto de novas tecnologias específicas e cada uma provoca mudanças específicas na economia.
A primeira metamorfose, nos anos 1970 e 80, nos trouxe circuitos integrados – minúsculos processadores e memórias em microchips que miniaturizaram e aceleraram tremendamente os cálculos. Engenheiros podiam utilizar programas de desenho assistido por computador, gerentes podiam rastrear estoques em tempo real e geólogos podiam discernir estratos e calcular a probabilidade de lá encontrarem petróleo. Pela primeira vez, a economia recebeu ajuda de verdade dos computadores. A computação pessoal moderna de altíssima velocidade havia chegado.
A segunda metamorfose, nos anos 1990 e 2000, nos trouxe a conexão dos processos digitais. Computadores foram unidos em redes locais e globais por linha telefônica, fibra óptica ou transmissão via satélite. A internet tornou-se uma entidade comercial, surgiram os serviços via web e a nuvem permitiu compartilhar recursos de computação. De repente, todo aparelho estava conversando com todos os outros aparelhos.
Foi aqui que surgiu a economia virtual de máquinas, software e processos interligados, na qual ações físicas podiam ser executadas digitalmente. Foi aqui também que a localização geográfica, que sempre fora fundamental, deixou de ter importância. Um escritório de arquitetura em Seattle podia agora gerenciar o projeto geral de um novo edifício e contratar trabalhadores de menor custo em Budapeste para cuidar dos detalhes, tudo de modo interativo. Varejistas nos Estados Unidos podiam monitorar fabricantes na China e rastrear os fornecedores em tempo real. O offshoring deslanchou, concentrando a produção onde quer que fosse mais barato – México, Irlanda, China – e fazendo com que economias locais, outrora prósperas, começassem a esmorecer. A globalização moderna havia chegado e, em grande parte, foi resultado da conexão dos computadores.
A terceira metamorfose – que estamos atravessando agora – começou por volta dos anos 2010 e nos trouxe algo que, à primeira vista, parece insignificante: sensores baratos e onipresentes. Hoje temos sensores de radar e de Lidar [light detection and ranging, radares de laser que detectam luz e medem distâncias], sensores giroscópicos, sensores magnéticos, sensores da composição sanguínea, sensores de pressão, temperatura, fluxo e umidade – às dezenas e centenas, todos combinados em redes sem fio para nos informar da presença de objetos ou produtos químicos, ou do estado ou posição atual de um sistema, ou de alterações nas suas condições externas.
Esses sensores nos trazem dados – um mar de dados – e todos esses dados nos incitaram a dar sentido a eles. Se pudéssemos coletar imagens de seres humanos, poderíamos usá-las para identificar seus rostos. Se pudéssemos “ver” objetos como estradas e pedestres, poderíamos usar isso para conduzir carros automaticamente.
Como resultado, o que se tornou proeminente nos últimos dez anos ou mais foi o desenvolvimento de métodos e algoritmos inteligentes para reconhecer e identificar coisas e fazer algo com esse resultado. E assim conseguimos obter a visão computacional (a capacidade de as máquinas reconhecerem objetos) e o processamento em linguagem natural, isto é, a capacidade de conversarmos com um computador como se fosse um outro ser humano. Desenvolvemos a tradução digital de idiomas, o reconhecimento facial, o reconhecimento de voz, a inferência indutiva e os assistentes digitais.
O surpreendente é que esses algoritmos inteligentes não foram criados a partir da lógica simbólica, com regras, uma gramática e a retificação de todas as exceções. Pelo contrário, foram compilados usando massas e massas de dados para formar associações. Este determinado padrão complexo de pixels significa “gato”; aquele significa “face” – o rosto de Jennifer Aniston. Este grupo de palavras em Jeopardy! [jogo de perguntas e respostas na televisão americana] apontam para “Júlio César”; aquele aponta para “Andrew Jackson”. Esta sequência silenciosa de lábios em movimento significa que tal e tal e tal palavras foram ditas em voz alta. Algoritmos inteligentes não são deduções de gênio; são associações tornadas possíveis por métodos estatísticos sagazes que utilizam massas enormes de dados.
Claro, até que dessem certo, essas técnicas estatísticas inteligentes levaram vários anos e exigiram quantidades fenomenais de recursos de engenharia. Eram restritas a domínios específicos e um algoritmo que conseguisse fazer leitura labial não era capaz de reconhecer rostos. Eram também utilizadas nos negócios: este perfil de cliente significa “conceder hipoteca de $1,2 milhão”; aquele significa “não autorizar”.
De repente, e essa foi a segunda surpresa, os computadores se tornaram capazes de fazer o que antes julgávamos que apenas seres humanos conseguiriam: associação.
O advento da inteligência externa
Seria fácil ver a inteligência associativa como apenas mais um aperfeiçoamento da tecnologia digital, e é assim que alguns economistas a veem. Eu, porém, acredito que ela é mais que isso. “Inteligência” nesse contexto não significa pensamento consciente ou raciocínio dedutivo ou “entendimento”. Significa a capacidade de realizar associações apropriadas; ou, no âmbito da ação, de detectar uma situação e agir de acordo com o que ela exige. Isso está em conformidade com os fundamentos da biologia, segundo os quais inteligência diz respeito a reconhecer e detectar, e utilizar isso para agir de modo adequado. Uma água-viva utiliza uma rede de sensores químicos para detectar materiais comestíveis nas proximidades, os quais ativam uma rede de neurônios motores que fazem com que o animal se feche automaticamente em torno do alimento para digeri-lo.
Do mesmo modo, quando algoritmos inteligentes ajudam um jato de combate a evitar uma colisão no ar, eles detectam a situação, calculam as reações possíveis, selecionam uma delas e adotam a manobra evasiva apropriada.
Não é necessário que haja um controlador no centro dessa inteligência; a ação apropriada nasce na forma de uma propriedade do sistema como um todo. O sistema de trânsito sem condutores, quando chegar, implicará carros autônomos movendo-se em faixas especiais, conversando uns com os outros, com balizadores especiais e luzes sinalizadoras. Estes, por sua vez, estarão “dialogando” com o tráfego à frente e com os requisitos de outras partes do sistema de trânsito. Neste caso, a inteligência – ações coletivas apropriadas – emerge da “conversa” continua entre todos os elementos. Esse tipo de inteligência é auto-organizadora, interativa, continuamente ajustável e dinâmica. É também em grande parte autônoma. Essas conversas e seus resultados ocorrerão com pouca ou nenhuma consciência ou intervenção humana.
O interessante aqui não é a forma que a inteligência assume, pois ela não está mais alojada no cérebro dos trabalhadores humanos, mas transferiu-se para fora, para a economia virtual, para uma conversa entre algoritmos inteligentes. A inteligência tornou-se externa. A economia física exige, consulta ou indaga; a economia virtual verifica, conversa e computa externamente, e depois remete os resultados de volta à economia física – que então reage de maneira apropriada. A economia virtual não é apenas uma Internet das Coisas; é uma fonte de ações inteligentes – uma inteligência externa aos trabalhadores humanos.
Essa passagem da inteligência interna para a externa é importante. Quando a revolução da impressão por tipos móveis ocorreu nos séculos 15 e 16, as informações armazenadas internamente em manuscritos em mosteiros passaram a ser disponibilizadas publicamente. As informações subitamente se tornaram externas: deixaram de ser propriedade da Igreja e podiam agora ser acessadas, ponderadas, compartilhadas e utilizadas por leitores leigos, isoladamente ou em uníssono. O resultado foi uma explosão de conhecimento, de textos do passado, ideias teológicas e teorias astronômicas. Os estudiosos concordam que isso acelerou em muito o Renascimento, a Reforma e o advento da ciência. Segundo o comentarista Douglas Robertson, foi a impressão que criou nosso mundo moderno.
Estamos agora vivendo uma segunda passagem do interno para o externo, a da inteligência. E como inteligência não é apenas informação, mas algo mais poderoso – o uso da informação –, não há motivo para imaginarmos que essa passagem será menos intensa ou transformadora que a primeira. Ainda não sabemos quais serão suas consequências, mas não há limite superior para a inteligência e, portanto, para as novas estruturas que ela trará no futuro.
Como isso muda os negócios
Voltando ao nosso tempo atual, como essa externalização do pensamento e discernimento humanos está transformando os negócios? E quais novas oportunidades ela traz?
Algumas empresas podem aplicar as novas capacidades da inteligência – como reconhecimento facial ou verificação de voz – para automatizar produtos, serviços e cadeias de valor existentes. E já há muito disso acontecendo.
Mudanças mais radicais ocorrerão quando as empresas juntarem elementos de inteligência externa e criarem novos modelos de negócio com eles. Recentemente, visitei uma fintech (empresa de tecnologia financeira) na China que desenvolveu um aplicativo para smartphone que permite ao cliente obter empréstimos na hora, enquanto faz compras. O aplicativo detecta a voz do cliente e transmite-a a algoritmos online para reconhecimento de identidade; outros algoritmos expandem a consulta e verificam sua conta bancária, histórico de crédito e perfil nas mídias sociais; outros algoritmos inteligentes ponderam tudo isso e uma oferta de crédito é exibida na tela do smartphone. Tudo em questão de segundos. Não se trata exatamente da adoção de inteligência externa, mas da combinação de algoritmos de interpretação de sentido, de pesquisa de dados e de linguagem natural para realizar uma tarefa que outrora era feita por seres humanos.
Com isso, as empresas podem consultar e utilizar uma “biblioteca” ou caixa de ferramentas de estruturas virtuais já criadas e, como se fossem peças de Lego, construir com elas novos modelos organizacionais. Uma dessas estruturas é o blockchain, um sistema digital para executar e registrar transações financeiras; outra é o bitcoin, uma moeda digital internacional compartilhada que pode ser usada comercialmente. Não se trata de software, ou de funções automatizadas, ou de máquinas inteligentes. Podemos pensar tais estruturas como ‘blocos de construção’ disponíveis externamente, formados a partir dos elementos básicos de algoritmos inteligentes e de dados.
O resultado – seja em bancos de varejo, em empresas de transporte, na área da saúde ou entre os militares – é que os setores da economia não estão sendo automatizados apenas com máquinas que substituem os seres humanos. Eles estão usando os novos ‘blocos de construção’ inteligentes para rearquitetar o modo como fazem as coisas. E, com isso, deixarão de existir na sua forma atual.
As empresas podem aproveitar as novas oportunidades de outras maneiras. Algumas grandes empresas de tecnologia poderão criar diretamente sistemas inteligentes externos, como o controle de tráfego aéreo autônomo ou diagnósticos médicos avançados. Outras poderão criar bancos de dados proprietários e extrair deles comportamentos inteligentes. Mas as vantagens do tamanho ou do pioneirismo no mercado são limitadas. Os componentes da inteligência externa não podem ser facilmente controlados ou mantidos exclusivos, e eles tendem a deslizar para o domínio público. O mesmo ocorre com os dados. É difícil impedir que outros tenham acesso a eles, pois eles podem ser obtidos de fontes não proprietárias.
Dessa forma, no futuro, veremos não apenas grandes empresas de tecnologia, mas também recursos compartilhados, gratuitos e autônomos. E se as revoluções tecnológicas do passado forem indicativas, veremos ainda o surgimento de indústrias inteiramente novas que jamais poderíamos ter imaginado.
Chegando ao “ponto de Keynes”
Evidentemente, existe um lado negativo de tudo isso – um lado bastante discutido, por sinal. A economia autônoma vem devorando a economia física e os empregos que ela oferece. Já se tornou lugar comum dizer que hoje o número de agentes de viagem ou datilógrafos ou assistentes de advocacia não chega nem perto do de outrora; mesmo profissionais especializados de alto nível, como radiologistas, estão sendo substituídos por algoritmos que muitas vezes desempenham a função melhor que os seres humanos.
Os economistas não discordam que os empregos estão desaparecendo, mas continuam discutindo se serão ou não substituídos por novos empregos. A história econômica nos diz que serão. O automóvel pode ter acabado com os ferreiros, mas criou novos empregos na produção de carros e na construção de rodovias. A história nos diz que a mão de obra liberada de uma função acaba sempre encontrando uma saída alternativa e que as coisas não serão diferentes na economia digital.
Não estou convencido disso.
Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, do Massachusetts Institute of Technology, assinalam que, quando o transporte automotivo chegou, houve todo um grupo de trabalhadores – os cavalos – que perdeu sua função e nunca mais encontrou emprego. Eles perderam o emprego e desapareceram da economia.
Eu acrescentaria outro precedente histórico. O offshoring das últimas décadas engoliu empregos físicos e setores inteiros da economia, empregos que jamais foram substituídos. A atual transferência de empregos da economia física para a virtual é um tipo diferente de offshoring, não para um país estrangeiro, mas para um virtual. Ninguém que acompanhe a história recente pode supor que esses empregos serão substituídos.
Na verdade, muitas pessoas demitidas se tornam desempregadas crônicas; outras são forçadas a aceitar empregos com baixa remuneração ou de meio período, ou acabam ingressando na economia informal. O desemprego tecnológico assume muitas formas.
O termo “desemprego tecnológico” é proveniente da palestra de 1930 de John Maynard Keynes, “Possibilidades econômicas para nossos netos”, na qual ele previu que no futuro, por volta de 2030, o problema da produção teria sido resolvido e haveria o suficiente para todos, ainda que as máquinas (robôs, pensava ele) provocassem “desemprego tecnológico”. Haveria abundância de tudo, mas os meios para acessar uma parcela dessa abundância – empregos – talvez fossem escassos.
Ainda não estamos em 2030, mas acredito que já chegamos ao “ponto de Keynes”, no qual a economia, tanto a física como a virtual, de fato produz o suficiente para todos nós. (Se a renda familiar total dos EUA – US$8,495 trilhões – fosse distribuída às 116 milhões de famílias do país, cada uma receberia US$73.000, mais do que suficiente para uma vida decente de classe média.) Mas chegamos a um ponto em que o desemprego tecnológico está se tornando realidade.
O problema dessa nova fase em que ingressamos não é propriamente o nível de emprego, mas sim o acesso ao que é produzido. Os empregos se tornaram o principal meio de acesso há apenas 200 ou 300 anos. Antes disso, o trabalho agrícola, as pequenas oficinas, os trabalhos por encomenda ou a riqueza herdada proporcionavam acesso. Agora, o acesso tem de mudar novamente.
Seja como for que isso aconteça, o fato é que ingressamos em uma nova fase da economia, uma nova era em que a produção importa menos e o que importa mais é o acesso a essa produção: a distribuição, em outras palavras – quem obtém o quê e como.
Entramos na era distributiva.

How artificial intelligence can deliver real value to companies
As realidades da era distributiva
Uma nova era traz novas regras e realidades; quais serão as realidades econômicas e sociais dessa nova era em que a distribuição é primordial?
1. Os critérios para avaliar políticas e diretrizes vão mudar. A antiga economia baseada na produção valorizava tudo que contribuísse para o crescimento econômico. Na economia distributiva, na qual empregos ou acesso a bens são os principais critérios, o crescimento econômico parece desejável desde que crie empregos. Atividades impopulares, como fracking [fraturamento hidráulico] já vêm sendo justificadas com base nesse critério.
Os critérios para medir a economia também mudarão. PIB e produtividade aplicam-se melhor à economia física e não computam adequadamente os avanços virtuais (veja box, “Produtividade e crescimento do PIB deixaram de ser parâmetros úteis?”)
2. Será mais difícil defender a filosofia do livre mercado nesse novo clima. Os proponentes do livre mercado baseiam-se na noção popular de que o comportamento não regulado do mercado conduz ao crescimento econômico. Tenho certa simpatia por essa ideia. A teoria econômica real tem duas proposições. Se um mercado – o mercado das viagens aéreas, digamos – for livre e operar de acordo com as entrelinhas de uma série de condições econômicas, seu funcionamento não desperdiçará nenhum recurso. Isso é eficiência. Segundo, sempre haverá vencedores e perdedores; portanto, se quisermos melhorar a vida de todos, os vencedores (as empresas aéreas de grande porte, neste caso) precisam compensar os perdedores: pequenas empresas aéreas e pessoas que vivem em lugares remotos. Isso é distribuição e, de modo geral, todos estarão com uma condição de vida melhor.
Na prática, seja devido a acordos de comércio internacional ou desregulamentação ou liberação de mercados, o aspecto da eficiência apenas se mantém, na melhor das hipóteses; a verdade é que, quase sempre, o comportamento não regulamentado leva à concentração, pois as empresas que estão à frente fazem de tudo para preservar suas vantagens. E, na prática, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, aqueles que perdem raramente são compensados. No passado, os perdedores podiam encontrar outros empregos, mas hoje isso se tornou problemático. Na era distributiva, a eficiência do livre mercado não será mais justificável se criar classes inteiras de pessoas perdedoras.
3. A nova era não será econômica, mas política. Temos visto indícios desta dura realidade nos Estados Unidos e na Europa. Trabalhadores que foram progressivamente perdendo acesso à economia ao serem substituídos por processos digitais têm a sensação de que tudo está desmoronando ao seu redor e intimamente têm raiva dos imigrantes, da desigualdade e das elites arrogantes.
Eu gostaria de pensar que essa turbulência política é temporária, mas há um motivo fundamental para que não seja. A produção, isto é, a busca de mais bens, é um problema econômico e de engenharia; a distribuição, que visa assegurar que as pessoas tenham acesso ao que é produzido, é um problema político. Portanto, até que tenhamos resolvido o problema do acesso, estaremos fadados a um longo período de experimentação, com ideias políticas remodeladas e partidos populistas prometendo um melhor acesso à economia.
Isso não significa que o velho socialismo voltará a ficar na moda. Quando as coisas se acalmarem, prevejo novos partidos políticos oferecendo alguma versão da solução escandinava: produção orientada pelo capitalismo e interferência do governo para determinar quem recebe o quê. Para a Europa, será relativamente fácil seguir esse caminho, pois um socialismo brando é parte de sua tradição. Para os Estados Unidos será mais difícil, pois o país nunca valorizou a distribuição sobre a eficiência.
Se conseguiremos ou não gerenciar um caminho razoável para chegarmos a essa nova era distributiva dependerá de como será concedido acesso à produção da economia. Uma vantagem é que os serviços virtuais são essencialmente gratuitos. Um e-mail custa praticamente nada. O que precisaremos é acesso aos bens físicos e serviços pessoais que não são digitalizados.
Para isso, ainda teremos empregos – especialmente empregos que exigem empatia humana, como professor de pré-escola ou trabalhos sociais. Mas haverá menos empregos, a semana de trabalho será mais curta e muitos empregos serão compartilhados. É quase certo que teremos algum tipo de renda básica. E veremos um grande aumento de atividades voluntárias remuneradas, como cuidar dos idosos ou orientar os jovens.
Também precisaremos resolver uma série de questões sociais: como encontrar sentido em uma sociedade na qual os empregos, essa extraordinária fonte de significado, são escassos? Como lidar com a privacidade em uma sociedade onde autoridades e corporações podem ‘invadir’ nossa vida e nossas finanças, identificar nossos rostos onde quer que estejamos e monitorar nossas crenças políticas? E será que realmente queremos que a inteligência externa nos “ajude” a cada passo – aprendendo como pensamos, adaptando-se às nossas ações, dirigindo nossos carros, corrigindo-nos e talvez até “zelando” por nós? Pode ser que não haja maiores problemas, mas é como termos um exército de mordomos autônomos que sabem demais sobre nós, que são capazes de antever e satisfazer nossas necessidades, e dos quais nos tornaremos dependentes.
Todos esses desafios exigirão ajustes. Contudo, podemos nos consolar sabendo que já passamos por isso no passado. Na Grã-Bretanha dos anos 1850, a Revolução Industrial provocou um aumento maciço da produção, mas este foi acompanhado por condições sociais atrozes, que acertadamente chamamos de dickensianas. Crianças trabalhavam turnos de 12 horas, as pessoas se acotovelavam em cortiços, havia tuberculose em toda parte e as leis trabalhistas eram escassas. Com o tempo, porém, leis de segurança no trabalho foram aprovadas, crianças e trabalhadores foram protegidos, habitações adequadas foram erguidas, o saneamento básico tornou-se disponível e surgiu uma classe média. Acabamos nos ajustando, embora demorasse 30 a 50 anos – ou, é possível argumentar, um século ou mais. As mudanças não foram iniciativas diretas dos governos da época, mas sim das pessoas – nasceram das ideias de reformadores sociais, médicos e enfermeiros, de advogados e sufragistas, de políticos indignados. Nossa nova era não será diferente nisso. Os ajustes necessários serão grandes e levarão décadas. Mas os faremos. Nós sempre os fazemos.